Serviços Personalizados
Journal
Artigo
Indicadores
-
 Citado por SciELO
Citado por SciELO
Links relacionados
-
 Similares em
SciELO
Similares em
SciELO
Compartilhar
Epidemiologia e Serviços de Saúde
versão impressa ISSN 1679-4974versão On-line ISSN 2237-9622
Epidemiol. Serv. Saúde v.17 n.4 Brasília dez. 2008
http://dx.doi.org/10.5123/S1679-49742008000400001
EDITORIAL
Os 20 anos do SUS e os avanços na vigilância e na proteção à saúde
Maria Cecília de Souza Minayo
Membro do Comitê Editorial Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli, Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Instituto Oswaldo Cruz
Mesmo os maiores críticos dos serviços públicos não podem deixar de reconhecer que nestes 20 anos transcorridos desde a Constituição Cidadã de 1988, o Sistema Único de Saúde brasileiro – SUS – transformou-se, amadureceu e passou a apresentar novas questões à consideração dos políticos, gestores e profissionais de saúde, quanto à gestão e à própria relevância dos problemas da Saúde Pública a serem enfrentados.
As teses defendidas na VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), consagradas na Constituição Federal de 1988, privilegiaram a formulação da política de saúde com base nas transformações do perfil demográfico e epidemiológico da população. Os debates acalorados pelo contexto político da redemocratização do país enfatizaram as ações de promoção e proteção da saúde e não apenas a cura das doenças, preocuparam-se com a acessibilidade dos cidadãos à atenção à saúde, com a integralidade e universalidade dos cuidados, independentemente da capacidade financeira dos usuários, e, por fim, com a organização do Sistema que primasse por um processo decisório participativo.
O conjunto de propostas referidas acima, exatamente o que a legislação brasileira em vigor propõe para o SUS, teve de percorrer os caminhos difíceis da mudança em relação a um sistema marcado pela visão hospitalocêntrica, centralizadora e discriminatória. São 20 anos de estrada, em que os atores sociais do processo de transformação se diversificaram e se multiplicaram, em que a pureza da proposta teve de ser adequada às contingências da realidade.
Muitos trabalhos, publicados e a se publicar neste ano, dispõem-se a uma revisão rigorosa e crítica das armadilhas que tornaram o SUS menos SUS. Entre os mais ferrenhos críticos, encontram-se autores e atores que, desde a primeira hora até hoje, se dedicaram firmemente ao desenvolvimento da proposta de acordo com sua filosofia original. Sua visão é imprescindível para o aprimoramento do Sistema e para as necessárias correções de rumos.
Neste editorial, prefiro falar das conquistas do processo já construído e dizer que, a meu ver, o SUS jamais poder-se-ia considerar consolidado. Na verdade, quando se diz que uma instituição ou ação está consolidada, dá-se por subentendido que está inerte e morta. Um organismo vivo e pulsante como é o SUS está presente na dinâmica provisória e perene de seus êxitos e suas deficiências. Nesse equilíbrio incerto, tendo que negociar os mais diversos interesses, o SUS responde, aqui e agora, aos problemas de saúde, corrige rumos, inclui novos temas, incorpora tecnologias inéditas no país e cria arranjos gerenciais. O que o SUS não pode é perder o norte da resposta aos anseios da população brasileira – seu único alvo inamovível – que se propõe a atingir um patamar mais elevado em sua qualidade de vida e de saúde.
Poderíamos enumerar grandes conquistas, como a queda vertiginosa da mortalidade infantil, a longevidade que aumentou rapidamente e a diminuição ou eliminação de várias doenças infecciosas. Hoje, com um importante sistema de informação, muito mais capacidade de gestão, profissionais mais bem preparados e um elenco de investigadores dedicados ao setor, é possível ao Sistema Único de Saúde ter muito mais clareza das necessidades, dos problemas e dos caminhos de solução. Exemplo desse aprimoramento é este número da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, cujos artigos são todos assinados por professores-doutores reconhecidos por sua profunda inserção na construção do SUS. Os temas tratados aqui estão em sintonia fina com questões fundamentais do campo da Saúde Pública. É o caso, por exemplo, do texto sobre fatores associados ao uso e à satisfação com os serviços de saúde entre usuários do Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte-MG,1 de dois artigos que abordam o aprimoramento do sistema de informação de morbimortalidade no que concerne à notificação da causa básica de morte de idosos e ao aperfeiçoamento do conhecimento sobre mortes maternas,2,3 e do manuscrito que apresenta uma técnica de estimação da infestação predial por Aedes aegypti.4
Nesse espaço de 20 anos, o tema do ambiente – que em 1986, ano de nossa VIII Conferência Nacional, já houvera sido tratado pela Carta de Otawa – incorporou-se, definitivamente, como componente essencial à saúde e não apenas como mais uma variável. A questão da violência, que, desde o final dos anos 1970, já se configurava como problema relevante no perfil de morbimortalidade do país mas não era tratada com o devido interesse, foi finalmente legitimada na pauta política e de práticas do setor. E as enfermidades não transmissíveis passaram a ocupar os primeiros postos na lista dos problemas a serem enfrentados.
Na organização do Sistema, o modelo hospitalocêntrico foi cedendo lugar a uma nova forma organizativa, com ênfase na atenção básica. Por indução das organizações que se criaram ou se redesenharam para atender à Constituição Federal e à Lei Orgânica da Saúde, esta promulgada em 1990 (Ministério da Saúde; Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde; Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde; e os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais, com representação dos usuários) o Sistema se descentralizou. Desta forma, tornou-se possível aos cidadãos um acesso público aos serviços próximos a seus locais de residência, serviços estes que, se não perfeitos e satisfatórios, estão longe de ser desprezíveis.
Desde a visão organizativa inicial, muito impregnada pelo marxismo estruturalista e voltada às macro-transformações, os atores do SUS evoluíram para também incorporar, junto com a idéia do coletivo, a questão da subjetividade, única e insubstituível em seu papel participativo e de responsabilidade na produção de condições e ações pela saúde. Essa incorporação da visão dos direitos e também dos deveres e da responsabilização do cidadão é uma forma de o Sistema se adequar às demandas do quadro sanitário. No caso das doenças não transmissíveis e dos agravos provocados pela violência, sabemos que é urgente e vital envolver todos os atores e sujeitos sociais, como coletividade e enquanto indivíduos, nos cuidados e na superação dos problemas. É o caso, por exemplo, do assunto tratado por um dos artigos desta edição da revista, que discorre sobre o perfil do consumo de bebidas alcoólicas segundo diferenças sociais e demográficas em Campinas-SP.5 O problema do alcoolismo inclui, inexoravelmente, participação e liberdade dos sujeitos em sua superação.
Certamente, este editorial não se propõe a uma avaliação do SUS, tarefa hercúlea para quem pretende mostrar suas potencialidades e suas fragilidades. Trata-se apenas de uma palavra de celebração de quem vem, por muitos anos, entre louros e espinhos, buscando acender seu palito de fósforo para, junto com outros milhões de pequenas chamas, iluminar o SUS em construção.
Referências bibliográficas
1. Lima-Costa MF, Loyola Filho, AI. Fatores associados ao uso e à satisfação com os serviços de saúde entre usuários do Sistema Único de Saúde na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde 2008; 17(4): 247-257.
2. Jorge, MHPM, Laurenti R, Lima-Costa MF, Gotlieb SLD, Chiavegatto Filho, ADP. A mortalidade de idosos no Brasil: a questão das causas mal definidas. Epidemiologia e Serviços de Saúde 2008; 17(4): 271-281.
3. Laurenti R, Jorge MHPM, Gotlieb SLD. Mortes maternas e mortes por causas maternas. Epidemiologia e Serviços de Saúde 2008; 17(4): 283-292.
4. Gomes AC, Silva NN, Bernal RTI, Leandro AS. Estimação da infestação predial por Aedes aegypti (Díptera: Culicidae) por meio da armadilha Adultrap®. Epidemiologia e Serviços de Saúde 2008; 17(4): 293-300.
5. Barros MBA, Marin-León L, Oliveira HB, Dalgalarrondo P, Botega NJ. Perfil do consumo de bebidas alcoólicas: diferenças sociais e demográficas no Município de Campinas, Estado de São Paulo, Brasil, 2003. Epidemiologia e Serviços de Saúde 2008; 17(4): 259-270.
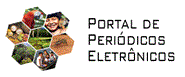











 Curriculum ScienTI
Curriculum ScienTI
